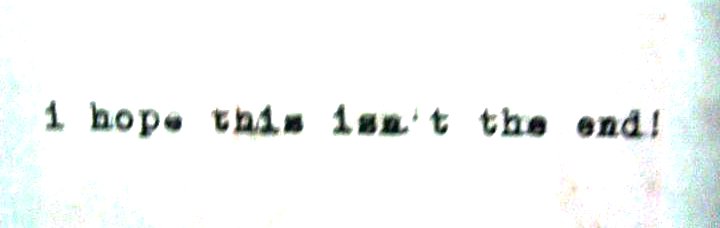Entre nós há uma mesa. Minha cadeira é apertada, então me ajeito impaciente. Ela posta a mão esquerda sobre a mesa, tamborilando os dedos. Inclinando a cabeça e sorrindo interessada, pergunta-me:
“Me diz, então: o que te fascina?”
Não é uma pergunta simples. A sala em que estamos também tem uma janela. Como é noite e o céu está nublado, há uma claridade bastante sutil entrando. Isso significa que não vejo nada lá fora além de um grande e infindável preto acima do horizonte, mas graças a isso me ocorre oportunamente uma resposta aceitável: digo-a que me fascinam as estrelas.
Sra. R. me olha cética, mas não perde a pose nem o sorriso. Põe sua mão no queixo e deixa subentendida a pergunta. “Bom, gosto da ideia de olhar para cima à noite e ver tantos retratos de não sei quantos anos atrás”, complemento. Ela abranda o sorriso.
“Você sabe, as estrelas estão longe o suficiente para que nós apenas consigamos vê-las milhões de anos depois que suas luzes tenham sido emitidas”, eu digo, sentindo-me como Marcelo Gleiser. Parece que estou no Discovery Channel, falando pela centésima vez sobre a velocidade da luz e os irmãos que envelhecem diferentemente porque um deles está em uma espaçonave rápida à beça.
“E por causa disso,” continuo enfático, “estamos olhando para a fotografia — não literalmente, é claro — daquilo que as estrelas costumavam ser. E isso me fascina. As estrelas nesse antigo manto de escuridão fazem um belo jogo de luzes com o que está aqui embaixo”.
“Não sei bem se jogo de luzes é o termo certo aqui. Mas entendo o que você está querendo dizer. Também acho bacana,” ela me diz. No entanto, muda de assunto, e aproveitando a deixa, Sra. R. começa a contar-me uma parábola. Nessa parábola, a luz (“quiçá uma dessas estrelas que você tanto gosta”, diz ela de passagem) chama um homem feito de sal para dentro do mar. O homem de sal vai andando para dentro da água, tentando alcançar essa luz que continua a chamá-lo, ainda que isso o dissolva aos poucos. O homem obviamente se desfaz inteiramente depois de algum tempo, e termina por integrar o mar, junto com a luz.
“E a luz, veja só que incrível, é Deus.” Seu sorriso manso não se desfaz. “Não é fascinante?”
Não entendo a parábola. Olho discretamente o relógio, mas ele está parado. Também não me lembro como fui parar ali e fico desconfortável novamente. Penso até por um instante que é muito estranho inclusive que estivéssemos em uma saleta tão escura. Mas a historinha força-me a voltar-lhe a atenção, e questiono-a sobre a moral por trás daquilo.
“Ora, não é claro?”
Não, não é tão claro. Faço a mesma cara que meu cachorro faz quando converso com ele.
“O homem de sal tornou-se um com Deus. E isso é todo o necessário.”
”Mas ele deixou de existir—“
“Por certo, mas não importa. Ele incorporou-se ao amor infinito. Ihm wird nichts mangeln.”
Entendo qual é o seu ponto, mas não tenho certeza do que ela está tentando me dizer. Ela já sabe que acredito em nada. Ou, como lhe dissera pouco antes, tenho muita fé na inexistência de qualquer coisa (além do fundo de nossas pálpebras) quando fechamos nossos olhos. Digo-a que não sei se me interessa ficar imerso na escuridão do fundo do oceano, por maior que seja o amor a me acompanhar.
“Parece-me que você não está imaginando isso corretamente. Suponhamos que você fosse o homem de sal. Quando você estivesse enfim dentro do mar, a escuridão seria eigentlich um clarão acolhedor. Digamos, um branco fosco.”
Lembro-me de quando assisti “Ensaio Sobre a Cegueira”. Esse branco que ela descreve me faz pensar em algum tipo de cegueira metafórica para aceitação, mais ou menos como na imagem que passa a adaptação em filme. Sei lá, provavelmente não era disso que Saramago estava falando. Ainda assim, qualquer que seja a metáfora, não é como se me fosse estranha a fé incondicional que Margarete (eis seu primeiro nome, lembro de repente) demonstra. Talvez eu quisesse a sentir também.
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte kein Unglück—“, ela entoou, e prontamente complementei:
„Denn du bist bei mir.“
Suas feições estão denotam como ela está satisfeita. Conheço, afinal, o salmo 23. Deve estar pensando que está diante de um crente relutante, apesar das justificativas. Minhas frases seguintes giram em torno de certas influências culturais que eu teria recebido; digo-a que, apesar da aparente relutância, ter crescido em um ambiente favorável a esse quase-cristianismo faz com que qualquer ideia de um pastor conduzindo minha alma atormentada — apesar de ser classe média branquinha e não ter muito com o que me atormentar, como observaria um grande amigo meu — seja uma ideia bem reconfortante. Pendão da esperança mesmo é aquela cruz pequeninha que ela ainda segura na mão direita.
“Se é que há um vale das trevas, ou da escuridão, prefiro pensar que ainda estejamos nele. Quer dizer, a inconsistência é bastante assustadora, mas tenho certeza que há formas também interessantes de amor sem que nos dissolvamos no mar”, falo meio que por falar. Antes que ela reaja, mudo de assunto:
“Amor também é algo fascinante.” Ela exclama contente em concordância, mas permanece sem dizer nada, apenas ouvindo-me falar. “Aliás, fascinantes mesmo são as pessoas.”
Margarete contém sua reação e espera pelo resto, ao que continuo: “Fico sempre impressionado de imaginar que certos animais (porque somos animais, mesmo com o polegar opositor e o telencéfalo altamente desenvolvido) sabem contrair determinados músculos do rosto para (propositalmente) sorrir. Isso diz muito para os outros animais que também têm essa capacidade. Há uma série de coisas para se tirar daí, como ver a paixão com que se enxerga o sorriso alheio—”
Eu paro no meio da frase, hesitando ao escolher as próximas palavras, e ela se aproveita da minha pausa:
“Porque afinal o amor é um pouco disso, não é?”
Não sei bem. Se saímos de definições complicadas acerca da pós-existência e Deus (algo que normalmente rende uma conversa difícil e aborrecida), estávamos agora em terreno ainda mais pantanoso. Repasso na cabeça o punhado de concepções a respeito de amor enquanto ela elabora a próxima frase, e acabo por concluir que não é algo feito de sorrisos, ainda que sorrisos sejam deveras agradáveis. Amor, pensando bem, é uma palavra muito pesada. Sorrisos são leves demais para isso.
“Acho que amor,” — seu tom é didático — “acontece quando você percebe a perfeição daquela pessoa que é imperfeita.”
“É, acho que é isso mesmo”, respondo. Assisti certa vez a uma entrevista dada por Jacques Derrida, mais ou menos sobre a mesma coisa, mas me faltam palavras para elaborar alguma coisa concreta e continuar. Estamos agora sorrindo amigavelmente um para o outro, um pouco sem o que dizer, mas dois gatos começaram a brigar lá fora e tiraram nosso foco da conversa. Os miados são muito estridentes.
“Só é uma pena que isso normalmente não seja tão simples”, digo quando os gatos ficam de novo em silêncio, procurando terminar o assunto e quem sabe a conversa. “Quero dizer, uma das minhas palavras favoritas em alemão é Leidenschaft, que significa ‘paixão’ em português.” Ela acena com a cabeça, sempre com uma expressão passiva e agradável.
“E gosto muito dessa palavra pelo jeito em que a conceberam. Veja, nunca olhei “Schaft” no dicionário, mas suponho que esteja de alguma forma ligada a um conjunto de alguma coisa. Não é? Porque se “Nachbar” é vizinho e “Nachbarschaft” é vizinhança, então o “-schaft” deve implicar definitivamente no coletivo da primeira palavra”.
“E se ‘Leiden’ é sofrimento em português,” — eu continuo — “você suporia sem dificuldade que ‘Leidenschaft’ deve ser um monte de sofrimento ou qualquer coisa dessa natureza. Mas ‘Leidenschaft’ significa ‘paixão’, veja só. Não me parece uma concepção somente germânica a respeito do significado de paixão." Ela passou a piscar um pouco mais rápido, seguindo o raciocínio. Levanta uma sobrancelha, e então termino, gesticulando um pouco demais.
“A paixão, portanto, é um monte de sofrimento (independentemente do grau desse sofrimento); mas é paixão. Na escuridão está o sentimento mais incrível — e fascinante — de que dispomos.”
E a escuridão, que já era forte na saleta em que estávamos, acabou por tomar-me completamente. Não saberia dizer quanto tempo isso levou; talvez uma hora, talvez algumas semanas, talvez uma vida inteira. Só sei que, passado esse ínterim, as sombras enfim cobriram toda a extensão do rosto de Sra. R. e não vi mais nada.
Meu último pensamento ainda pairou sobre a conversa, talvez deixando bastante claro que o amor (ou a paixão, que não são a mesma coisa, mas são partes de um mesmo todo) são contradições bastante complexas. Leidenschaft é um perfeito exemplo disso.
Enfim quis dizer em alemão, mas só me veio em inglês:
we must reinvent love.
--
Diferentes concepções de escuridão:
http://mundoderascunhos.blogspot.com.br/2012/03/quarter-to-three.html